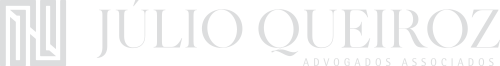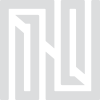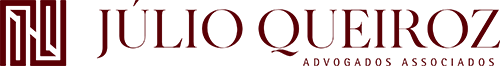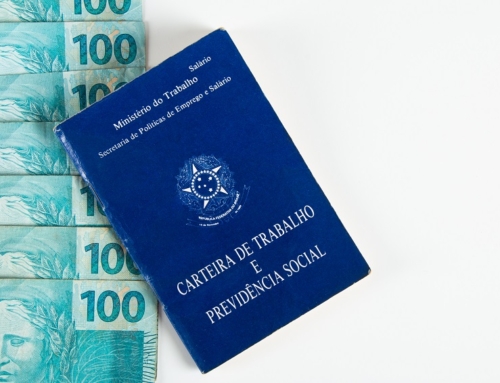A entrada em vigor da Constituição da República em 5 de outubro de 1988 foi um divisor de águas da efetivação dos Direitos Humanos no Brasil. Após vinte e um (21) anos de ditadura, era promulgada no país, aquela que ficou conhecida como “Constituição Cidadã”, porquanto um dos fundamentos do Estado brasileiro, passava a ser, ao lado do da soberania e da cidadania, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Este, de conceituação multívoca, expressa, já no início da Lei Maior, que o legislador constituinte fez a opção pelo respeito da pessoa humana, o que vem sendo implementado ao longo de todos esses anos de sua vigência. Assim foi que logo após sua promulgação, surgiram, entre outras leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (lei 8.069/1990); a lei 8.560/1992, que regulamentou o reconhecimento de filhos não matrimoniais, buscando por fim à discriminação existente até então; as leis 8.790(1994) e 9.278/1996, que cuidaram de regulamentar a entidade familiar constituída pela união estável (Const., art. 226, § 3º.); a lei 10.741/2001, mais conhecida como “Estatuto do Idoso”; e a lei 13.146/2015, o famoso EPD, isto é, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou profundamente o tema da capacidade civil plena, no ordenamento jurídico pátrio, para ficar entre leis que são de extrema importância para a efetivação do princípio da dignidade humana, assim como previsto pelo Constituinte.
Apesar de todas essas leis, e como se sabe, no Brasil a lei “pega ou não pega”, muito ainda precisa ser feito, a fim de que a legislação acima referida produza todos os efeitos por ela objetivados. Assim é que, no que diz respeito aos idosos, a despeito de lei específica e bastante abrangente, nem sempre as pessoas acima dos sessenta (60) anos1 têm conseguido o respeito que merecem. E isto, muito embora eles carreguem algo muito importante para a sociedade: experiência e história de vida.
Atualmente o país conta com aproximadamente vinte e oito milhões de pessoas acima de sessenta (60) anos, o que significa cerca de treze (13%) por cento da população do país, de acordo com previsões do IBGE.2 O objetivo, aqui, é o de apresentar alguns dos aspectos que estão a exigir uma maior atenção por parte do mundo jurídico, em termos de responsabilidade civil e o papel da família em relação ao idoso. Isto porque, tanto a Constituição (art. 230, caput e § 1º.)3 quanto o Estatuto do Idoso (art. 3º.)4, dão preferência à família, no que se costuma chamar de rede de apoio ao idoso. Só depois é que se tem a sociedade e o Estado como apoiadores dessas pessoas.
Dentre as atribuições da família, como principal cuidadora do idoso, a Constituição disciplinou, na segunda parte do art. 229, competir aos filhos maiores “o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade.” E normalmente é na velhice, que a carência – afetiva, psicológica, espiritual e financeira -, bem como a enfermidade, se instalam na pessoa humana.
O que se tem visto, contudo, é que muitos idosos estão sendo abandonados pelos seus filhos, em todos os sentidos acima mencionados. No entanto, a prática tem demonstrado que nem sempre os pais desejam ingressar em juízo contra os filhos que os deixam ao desamparo, alegando que o filho deveria saber que eles necessitam de ajuda. Daí, ao que parece, a falta de uma cultura na sociedade brasileira, de se exigir do filho que cuide do pai. Note-se que não se está a exigir que o filho ame o pai ou a mãe, mas que cuide dele. Neste sentido, aliás, já em 2012, no dia 24 de abril, a Ministra Nancy Andrighi, em julgamento histórico5, explicitou não existir um dever de amar, mas, sim, de cuidar. Referia-se a julgadora a um caso de abandono de filho pelo pai. Em sentido inverso, pode-se afirmar que filhos maiores são responsáveis pelos seus pais, mais ainda quando estes já se encontram no chamado outono da vida. É justamente nesta época, que a vulnerabilidade e a fragilidade da pessoa afloram, e que ela precisa de mais atenção e cuidados.
Recentemente, aconteceu de uma senhora em idade bastante avançada, ter sido internada em estabelecimento hospitalar, na Unidade de Terapia Intensiva, apresentando quadro grave de Covid-19. Quando ela estava para ter alta hospitalar, a médica que tratava da paciente, entrou em contato com a filha da paciente, informando-a que a mãe já estava em condições de voltar para casa. A profissional foi surpreendida com a reação dessa parente tão próxima da enferma. Ela afirmou para a médica estar certa de que a mãe já havia falecido há muito tempo. Acrescentou que não a queria em sua casa, e que ela e os irmãos pagariam para ela continuar sendo mantida no hospital. A partir dessa recusa dos filhos em acolherem a idosa no seio da família, a direção do hospital tomou as medidas legais cabíveis, a fim de que a filha e os irmãos sejam responsabilizados. O próprio Estatuto do Idoso prevê, no art. 98, esta hipótese. Aliás, nesta mesma esteira, tem-se o Código Penal, que em seus arts. 133 e 244. Este dispõe, entre outros, sanção para os casos em que descendente deixa “ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos”, em abandono financeiro ou sem cuidados, quando enfermo.
Se é da família que se espera o exercício do dever de cuidado em relação à pessoa idosa, qual a responsabilidade civil dos filhos que deixarem os pais em abandono, seja ele de que categoria for: afetivo, financeiro, espiritual, psicológico?
O projeto de lei 4.229/2019, de autoria do Senador Lasier Martins, pretende alterar o Estatuto do Idoso, para responsabilizar o filho que abandonar o pai idoso ou a mãe idosa. Se aprovado, o Capítulo XI do Estatuto, que cuida do “Direito à Convivência Familiar e Comunitária”, passará a incluir os arts. 42-A e 42-B, que disporão: “Art. 42-A. A pessoa idosa tem direito à manutenção dos vínculos afetivos com a família e dos vínculos sociais com a comunidade, em ambientes que garantam o envelhecimento saudável”. E o Art. 42-B. “Aos filhos incumbe o dever de cuidado, amparo e proteção da pessoa idosa.” No parágrafo único deste dispositivo encontra-se a previsão da responsabilidade civil do filho: “A violação do dever previsto no caput deste artigo constitui ato ilícito e sujeita o infrator à responsabilização civil por abandono afetivo, nos termos do art. 927 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”
Na justificativa do Projeto, escreve o Senador:
“A alusão ao art. 927 do Código Civil tem por finalidade permitir que juízes apreciem, no caso concreto, os pressupostos que configuram a responsabilidade civil subjetiva, a saber, o descumprimento do dever de cuidado, o dano gerado no idoso (sentimento de isolamento, de solidão, quadros depressivos, entre outros), o nexo de causalidade e a existência de excludentes de ilicitude”.
“Entendemos que a ameaça de uma sanção cível de natureza pecuniária terá um interessante efeito pedagógico sobre a dinâmica de famílias com histórico de descaso praticado contra seus membros idosos. Acreditamos, por fim, que a proposição contribuirá, de alguma forma, para o restabelecimento de vínculos de afetividade e para a preservação de uma ética familiar que beneficiará a sociedade como um todo.”6
No momento, o que se tem é a possibilidade de alegação de abandono afetivo, que poderiam ser reparados com pedido de danos morais, com fundamentação no art. 186 do Código Civil. De fato, contudo, o que começa a acontecer são ações contra filhos, pedindo o pagamento de alimentos. Ainda não são muitas, mas a história começa a mudar lentamente.
Fonte: Migalhas.